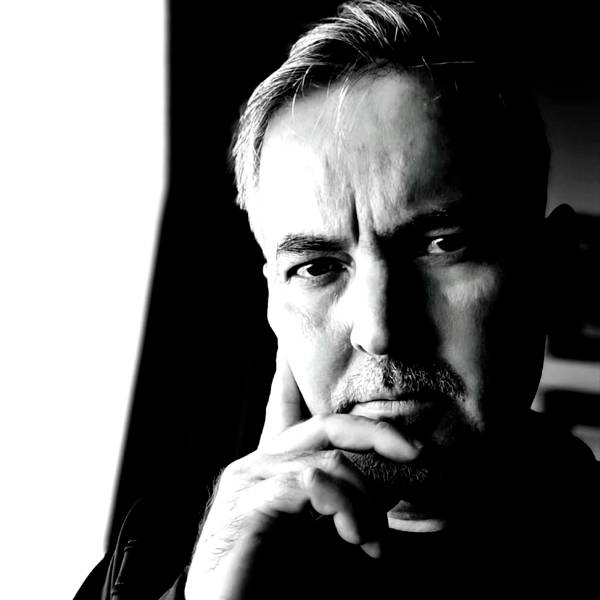Jonas Soares de Souza fala sobre sua paixão pela história de Porto Feliz e chama a atenção à valorização e preservação da identidade histórica local, através do resgate e manutenção das tradições deixadas por nossos antepassados.
Um amor que começou ainda na infância e perdurou por uma vida toda. É assim que pode-se definir a relação entre Jonas Soares de Souza e a história de Porto Feliz e do Brasil. Aos 73 anos, o historiador é autor de uma das maiores coletâneas da história de Porto Feliz, Porto e o Rio, que reúne relatos que contam a história do período das monções.
Aposentado desde 2009, Jonas Soares continua trabalhando em projetos culturais, em uma produtora que faz pesquisas para filmes, novelas e documentários, quando o tema passa pela história.
Nesta entrevista, Jonas conta tudo sobre sua vida, fala sobre personagens importantes, como Pedro Moreau e outros que o ajudaram a descobrir e aperfeiçoar sua vocação. Confira!
Você é gente de quem?
“Gente de quem” é ótimo! Acho tão bacana esse interesse em saber seu pertencimento, em fazer um quadro para situá-lo.
Bem, sou gente da família Soares de Souza e Rodrigues. Meu pai, Jetro Soares de Souza, é de uma família que morava na região de Água Fria, próxima ao bairro rural de Sete Fogões, na triangulação entre Porto Feliz, Rafard e Tietê; e minha mãe, Abigail Rodrigues, que descende do Eloy Rodrigues, imigrante espanhol que saiu da Galícia, próximo à região Nordeste de Portugal, no final do século XIX, uma região bastante sofrida pelos rigores climáticos, diga-se de passagem.
Nesta imigração veio o Eloy, junto com seu irmão Pedro, que ficou muito tempo conhecido na cidade como Pedro Espanhol, e a irmã Encarnación. São filhos do Eloy Rodrigues, meu tio Otoniel, o tio Moisés, tia Maria e tia Marta, além de minha mãe, todos já falecidos.
Nasci, portanto, no âmbito de uma família humilde. O primeiro trabalho do meu pai foi na lavoura, depois em algumas indústrias, ocasião pela qual emigrou para Santo André à procura de trabalho, cidade onde vim a nascer, em 1944, no apogeu da 2ª Guerra Mundial. Com a situação melhorando, pós-guerra, voltou para Porto Feliz, onde trabalhou no comércio e indústrias locais. E minha mãe foi servidora pública nas escolas municipais. Seu último trabalho foi na Escola Normal de Porto Feliz.
Nesta volta de Santo André a Porto Feliz, qual era sua idade?
Tinha por volta dos 7 anos. Iniciei os estudos em Santo André e concluí em Porto Feliz, passei pelo Coronel Esmédio, que era no prédio do Museu, e fiz o secundário no Monsenhor Seckler. Mas toda família que queria preparar seus filhos para o trabalho também se preocupava em colocá-los numa escola comercial; por este motivo, também fiz alguns anos na Escola de Comércio de Porto Feliz. Esta foi a base dos estudos de primeiras letras, digamos assim.
Desde criança, já gostava de história?
Ainda neste período, o que marcou muito a minha vida foi o interesse pela leitura. O meu pai era uma pessoa simples e de tradicional família presbiteriana. Desde o século XIX, o bisavô chegou a abrigar em sua casa, em Sete Fogões, missionários presbiterianos e, a partir deste momento, ele também se tornou presbiteriano. Assim, sucessivamente, meu pai, que ainda criança tinha uma sede para ler a Bíblia, aprendeu a ler com o objetivo de ler a Bíblia. E este costume de leitura ele passou para todos em casa. Então, sempre tinha livros, num primeiro momento que eram ligados à Bíblia e também livros ligados à história da Bíblia.
Meu pai percebeu em mim certo espírito arredio, então ele queria que eu lesse livros, inclusive alguns que surgiam naquele momento e que comprovavam, através da história, a veracidade dos textos bíblicos; livros de estudos arqueológicos que tinham a função de comprovar a veracidade da Bíblia. Assim, desabrochou em mim o gosto pela história.
Conte-nos sobre estes livros.
Estes livros que meu pai me dava eram uma forma de chamar minha atenção, e isso despertava não somente o meu interesse religioso, mas a história por trás da Bíblia. Eu gostava muito, inclusive servia também para que eu entendesse o motivo pelo qual éramos presbiterianos.
Alguns dos primeiros presentes que ele me deu foram livros do João Calvino, de uma erudição incrível. Calvino é autor das Institutas, que falam sobre a estrutura da igreja cristã, são obras compostas na época da Reforma, meados dos séculos XVI.
Então, estas obras do Calvino, do Lutero e obras de arqueólogos, especialmente alemães e luteranos, que trabalharam para discutir esta questão, eram obras de — me lembro da expressão — “descobertas arqueológicas que comprovam a veracidade da Bíblia”. A frase me veio agora porque estou me lembrando deste período.
Quem sabe meu pai tinha sonhos que eu me tornasse um pastor presbiteriano? Mas este gosto pela história nasceu ali, em casa, por questionar tudo.
E além dos livros?
Este interesse pela história se completa, ou se expande, quando eu começo a conversar com o senhor Pedro Moreau. Me recordo que ele gostava muito de falar o seu nome: Jean Pierre Moreau e passou a assinar Pedro José Moreau.
Quando jovem, morávamos na Rua Newton Prado. Nossa casa acabou se tornando num pequeno centro de encontro de amigos. Meus pais, muito abertos ao diálogo, tinham muita dedicação em difundir a fé cristã presbiteriana. Assim, devido a estes encontros filosóficos, seu Pedro frequentava muito a minha casa.
Em casa, também gostávamos muito de ouvir músicas clássicas. Meus pais, apesar de pessoas simples, do campo, tinham lá sua vitrolinha e gostavam de Mozart, Beethoven, entre outros compositores. Claro que as músicas da roça também estavam presentes, mas sempre se ouvia músicas clássicas, me lembro, naquelas sonatas antigas. Muitos dos meus amigos, na época, se reuniam em casa para ouvir músicas. Teve um período que eu trabalhava e sempre comprava discos do Frank Sinatra, eu gostava muito. Logo depois, veio a era dos Beatles. Esta viagem no tempo me faz lembrar do Bahia, não vou recordar o nome dele, mas ele tinha um conhecimento fantástico de música, aprendeu inglês na casa dele, no Bambu, só para cantar as músicas dos Beatles. Bahia era frentista de um posto de combustível.
O que mais te marcou nestes encontros em sua casa?
Minha mãe, muito generosa, também recebia suas tradicionais visitas que passavam em casa para tomar um café. Por exemplo, Dito Bobo, Rojão, Seu Salvador, que ia com um terninho simples, amarrotado, pessoa bastante humilde, ele sentava ali, minha mãe preparava um prato para ele… E para a gente, era muito gostoso saber um pouco de cultura popular ouvindo estas pessoas. Acima de tudo, do jeito dela, minha mãe estava incutindo respeito às diferenças…
Dona Laurentina, parece que a estou vendo na minha frente… uma senhora fraquinha… havia também um senhor, um mulatão que usava uma roupa espalhafatosa e várias latas penduradas. Nós o chamávamos de Nhô Lata. Ele dizia que era de Mombuca, muito tempo depois vim saber que Mombuca é perto de Piracicaba.
Nhô Lata sempre parava em casa para tomar um café e ali ele explicava que as latas tinham diversas funções: primeiro, chacoalhava e chamava a atenção com o barulho, porque ele andava à noite nas estradas; tinha uma de massa de tomate que ele usava para tomar café, uma de marmelada, mais achatada, que ele usava como prato de comida. Ele tinha várias latas, cada uma com uma função.
Esse ambiente de pessoas populares que minha mãe abrigava era para a gente aprender o respeito pelas diferenças sociais. Minha mãe gostava de fazer pão, o famoso pão feito em casa… não foram poucas as vezes que as pessoas pediam.
E, entre as pessoas que passavam por lá para almoçar, prosear, mas muito mais para ensinar e dar lições de vida, estava Seu Pedro Moreau, que tinha um conhecimento incrível, autodidata, era fluente em francês, italiano, arranhava o inglês, conhecia astronomia, botânica, ervas medicinais.
Pedro Moreau ainda morava na Colônia Rodrigo e Silva e ficava na casa de parentes, na cidade. Não foram poucas as vezes que ele nos convidava para acompanhá-lo até sua casa na colônia. Era um cômodo repleto de jornais, livros, muitos livros… não foram poucos os livros que ele me deu de literatura, de poesias… coletâneas inteiras.
Dentre os livros, um em especial eu fiquei apaixonado. Se chama Monções, de Sérgio Buarque de Holanda, um exemplar da primeira edição de 1946 que eu guardo até hoje.
Nascia aí seu fascínio pela história de Porto Feliz…
Além deste livro, Seu Pedro me mostrou uma poesia que ele tinha feito sobre as Monções que, inclusive, publicou no jornal Tribuna das Monções. Neste momento, Pedro Moreau me chama a atenção para a riqueza de detalhes de Sérgio Buarque de Holanda, na questão da cultura material, que é muito comum na área da arqueologia, ou seja, os traços culturais que estão materializados em objetos, a descrição de como era a comida, a vestimenta, como construíam as canoas, como navegavam…
Este livro me conquistou de vez. Então, aliado aos livros de arqueologia que comprovavam a veracidade das histórias escritas na Bíblia, nasceu, a partir das mãos de Seu Pedro, um desejo enorme de conhecer a história do Brasil. Não somente aquela que estava nos livros didáticos de escolas, mas me aprofundar.
Pedro Moreau foi um instrumento para que eu fosse atrás de mais livros, ele tinha um conhecimento erudito sobre alguns historiadores, inclusive historiadores franceses que eu nunca tinha ouvido falar.
Como foram os estudos de graduação?
Logo depois, com tudo isso, fui fazer um curso de História em Sorocaba, na Fundação Dom Aguirre, atual Uniso, que, na época, tinha uma proximidade muito grande com o Departamento de História da USP. Então, muitos professores da área de Geografia e História da USP estavam nestes tempos iniciais da Faculdade.
Na área de Geografia, me lembro do professor Titarelli, do qual me tornei muito amigo; e na área de História, Meire Ramalho, professora assistente do Departamento de História da USP, também a professora de paleografia Maria José Elias, que era do Museu Paulista.
Neste tempo, a Faculdade tinha um intercâmbio muito grande com palestrantes da USP, dos quais cito Fernando Novaes, Carlos Guilherme Motta e, logo depois, começou a lecionar o professor Maurício Tragtenberg, hoje somos muito amigos.
Quanto aos textos que recebíamos, todos em inglês e francês, eu sempre pedia socorro para Seu Pedro Moreau, para me ajudar na tradução e entendimento dos estudos.
Em pouco tempo, estes professores me convidaram a concluir os estudos na USP, em São Paulo.
Simultaneamente, com o curso de História, comecei a frequentar cursos de História da Arquitetura na FAU Maranhão, localizado na Rua Maranhão, em Higienópolis. Me tornei amigo de grandes professores como Julio Katinsky, natural de Salto, João Valter Toscano, ituano, pela proximidade com Porto Feliz, dentre outros.
Casou-se com a história?
Se eu fizer uma ligação, este gosto pela história nasceu deste interesse do meu pai pelo conhecimento da história que comprovasse a veracidade da Bíblia, soma-se a isso o encontro com um grande sábio portofelicense que marcou muito a minha vida, que foi o Sr. Pedro Moreau, que frequentou a minha casa e juntos caminhamos a pé até sua casinha na Colônia Rodrigo e Silva.
Nessas viagens memoráveis, caminhava também Roberto Prestes de Souza, Rone Carlos Antunes, Ubirajara de Campos. Era um grupo interessado na história e nas filosofias de Pedro Moreau que, em sua simplicidade franciscana, atraía seguidores. Isso me levou a me apaixonar por história.
Alguns amigos meus diziam que eu tinha casado com o museu. Realmente, fui um apaixonado pela história. Olhando hoje, à distância, repetiria a minha história, se nela fosse estado a repeti-la outra vez.
O que fez após a graduação?
Prestei concurso para Historiador e me ingressei no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, em meados de 1972, onde me tornei historiador profissional. Do Museu Paulista, ingressei no Museu Republicano, que é uma extensão ligada à República do Brasil.
Em que consistia este trabalho?
Pesquisar as coleções de documentos para se conhecer melhor os objetos tridimensionais, pinturas, fotografias, reproduções de imagens que o museu tinha. A história já estava na veia.
Onde morava?
Sempre morei em Porto Feliz, embora eu tenha alugado um pequeno apartamento em São Paulo para concluir a pós-graduação. Me recordo de várias pessoas de Porto Feliz que também vieram morar comigo neste apartamento. Fizemos uma república, aluguei em meu nome, e o Dr. Walter Castelucci foi o fiador.
Lá moraram: Danilo Castelucci, Leonardo Marchesini, que anos mais tarde se tornaria prefeito em Porto Feliz, Darci Caliman, Durval Coan, grande mestre de Economia, além de mim. Foi um tempo muito divertido.
Quando começou a contribuir com seus conhecimentos para a Semana das Monções de Porto Feliz?
Quando estava fazendo o curso de História na USP, o Dr. Walter Castelucci, entre outros conhecidos, Romeu Castelucci, um secretário da câmara, Nelson Tabarro, se não me engano – não podia esquecer este nome – começaram a fazer contato, primeiro para eu convidar palestrantes, já que eu tinha acesso frequente a Sérgio Buarque de Holanda.
A última vez que o contatei foi quando ele lançou a segunda edição do livro Monções. O Sérgio faleceu em 82. Então, me pediram para entrar em contato com essas pessoas, dentre elas uma senhora de Porto Feliz, Susie Rehder, que trabalhava no Ministério da Educação e Cultura; e foi ela que nos abriu as portas a filmes didáticos de história, por exemplo, um filme do Humberto Mauro, chamado Os Bandeirantes e outros, como O Descobrimento do Brasil. A Susie nos forneceu cópias em 16mm para projetar em programas da Semana das Monções.
Logo depois, nos anos 70, já trabalhando no Museu Paulista, trouxe exposições também para a cidade.
E como eram feitos esses investimentos?
Tudo com recurso próprio, a gente se virava, o pessoal ia atrás. Em 1978, me lembro, eu trouxe um grande etnólogo alemão que queria conhecer o ponto de partida das monções, trouxe no meu carro. Mesmo as organizações das Festas das Monções eram estruturas econômicas que contavam muito com o empenho pessoal dos envolvidos.
Me lembro do Seu Emílio Coli, muito amigo de minha mãe, que dizia para trazer fotografias dos bandeirantes para se vestir igual. Orlando Zilli, Professor João Campos, da Capoava, não vou me lembrar de todos, mas eram pessoas desprovidas de interesses políticos.
A Semana das Monções é uma tentativa de resguardar e manter viva esta história?
As Monções constituem um capítulo épico da história de São Paulo. Alguns historiadores trabalharam até a questão de como um episódio tão significativo, que marcou a cidade nos séculos XVII e XVIII, especialmente no XVIII, influenciou todo o desenvolvimento e consolidação da cidade, culminando com a criação do município do termo — como se dizia — e seu nome, Porto Feliz, em 1797, que se deve às Monções.
Como é que esse movimento, que trazia tanta gente, autoridades, e que continuou trazendo, no século XIX, cientistas que passaram por aqui — muitos deles os mais famosos que vieram na Expedição Langsdorf — acabou sendo esquecido pela população?
Foi sumindo, não se ouve falar que alguém é descendente de um mestre canoeiro, ou que o tataravô foi piloto das monções. Sumiram! Essa é uma questão que intriga os historiadores até hoje. Por que desapareceu?
Pode-se dizer que, mais recentemente, não só as Monções, mas até a presença do rio, a população virou as costas. Sou de uma geração que brincava nestas águas, e hoje o rio está poluído, esquecido, não é mais nosso.
O que difere Monçoeiros de Bandeirantes?
O bandeirismo foi um movimento que marcou especialmente o final do século XVI e todo o século XVII. É daí que surgem os grandes bandeirantes, como Fernão Dias Paes e Raposo Tavares, entre outros. Para se ter uma ideia, Raposo Tavares percorreu algo próximo a 50 mil quilômetros a pé! Ele saía de São Paulo, seguia para o Oeste, entrava na Bolívia, subia em direção à Amazônia e depois descia pelo interior.
O bandeirantismo também é conhecido como “os 600”, referenciando os 600 anos desse movimento. São Paulo, na época, era uma capitania pobre, e os paulistas tinham uma predisposição para sair em busca de ouro, metais preciosos e, num primeiro momento, mão de obra para suas lavouras, pois estavam abrindo fazendas e precisavam de trabalho braçal. Toda aquela região de Barueri, Santana do Parnaíba e Carapicuíba foi formada por essas fazendas.
Nesse primeiro momento, as expedições saíam para capturar indígenas, um processo chamado de “preação de índios”. O historiador John Monteiro, naturalizado brasileiro e que trabalhou na UNICAMP, usou a expressão “os negros da terra” para se referir a esses índios capturados. O bandeirantismo foi, portanto, um movimento formado especialmente por paulistas, que inicialmente aprisionavam índios, conquistavam terras, abriam fazendas e plantavam cidades; num segundo momento, começavam a descoberta de metais preciosos. Essas expedições eram, em sua maioria, terrestres.
No final do século XVII, esse grande movimento dos “600” começou a diminuir. Porém, no início do século XVIII, em 1719, foram descobertos veios de ouro na região onde hoje é Cuiabá. Essa descoberta agitou São Paulo a ponto de quase esvaziar a cidade. Os registros da época mostram um movimento contínuo de pessoas deslocando-se para o porto de Araritaguaba, para embarcar rumo à nova fronteira.
A partir daí, por diversas razões, a rota escolhida foi a fluvial. Sergio Buarque de Holanda chamou esse trajeto de “estrada móvel”, pois o caminho natural que os exploradores, especialmente os sorocabanos, descobriram era navegar todo o curso do rio Tietê, desembocando no rio Paraná até a foz do rio Pardo, e dali subir por alguns afluentes, atravessando varadouros — o maior deles o de Camapuã, com cerca de 14 km — até alcançar afluentes da bacia do rio Paraguai, o que permitia chegar a Cuiabá. Hoje, olhando para essa rota, percebe-se o quão grandiosa e inédita ela foi nas Américas.
Segundo dados da época, navegava-se cerca de 3.500 quilômetros entre Araritaguaba e Cuiabá.
Como encontraram Araritaguaba?
O conhecimento das rotas fluviais veio dos indígenas. Quando os portugueses chegaram ao planalto de Piratininga, já tinham informações sobre o curso d’água. Sabiam que, saindo da depressão periférica do planalto, o rio despencava na região de Cabreúva e entrava numa planície navegável, com alguns obstáculos. Inicialmente, navegavam até o porto Góes, próximo a Salto, mas foi a partir de Porto Feliz que a viagem se tornou mais tranquila. Daí surgiu o Porto de Araritaguaba.
Há relatos de uma aldeia indígena chamada Maniçoba, antes deste porto, não há?
Os jesuítas e os documentos mencionam um aldeamento, não exatamente uma aldeia indígena. Aldeia seria uma nação indígena estabelecida, e não era bem isso. Aldeamento era um local onde os jesuítas reuniam índios para domesticá-los, usando um linguajar um tanto quanto impróprio para a época.
Esse aldeamento chamado Maniçoba, que faz referência a um tipo de mandioca, ficava localizado, segundo cartas jesuíticas, nas proximidades de Piratininga, mais próximo a Itu. Claro que havia indígenas espalhados por toda essa região. Os etnólogos discutem se eram grupos Tupi ou Guaianases. Existem restos de cultura material, como igaçabas (urnas funerárias indígenas) encontradas aqui na Volta do Poço, perto da antiga fazenda Sobradinho, e outras em regiões próximas a Porto Feliz, que são da família dos índios Tupis.
Lembro-me de uma dessas descobertas, feita pela arqueóloga Silvia Amaral, quando eu ainda era estudante. Um tratorista encontrou artefatos, a notícia chegou até mim e fomos conhecer o local. Isso foi há cerca de 50 anos. As tribos indígenas, quando os colonos começaram a se estabelecer, já tinham sido dizimadas ou empurradas para o interior do sertão.
Voltando à questão sobre Monções e bandeirantismo…
Um dos diferenciais das Monções é que elas embarcavam e seguiam pela rota fluvial, enquanto o movimento bandeirante percorria as terras a pé. O importante nas Monções não era só buscar ouro, mas todo o intenso comércio que as expedições promoviam.
Algumas dessas expedições foram gigantescas. Em 1726, por exemplo, Dom Rodrigo Cesar de Meneses, Capitão General da Capitania de São Paulo, liderou uma expedição para instituir a Vila de Cuiabá que tinha mais de 300 barcos e mais de 3 mil pessoas, segundo documentos da época. E tudo isso partindo daqui, deste porto.
Imagine o movimento numa vila pequena, tendo que se mobilizar para fornecer víveres e alimentos para essas grandes expedições! É importante ressaltar: o valor das Monções está em estabelecer uma rota e desenvolver um forte comércio interno, levando animais, gado, pólvora, alimentos, tecidos, e retornando com ouro.
No percurso, foram criando pequenos pousos que deram origem às cidades que conhecemos hoje, formando a base de um intenso comércio que, mais tarde, foi ampliado pelos tropeiros.
Há um boato na cidade que diz que em Porto Feliz não pisou nenhum bandeirante. E pelo seu relato, o movimento bandeirante se transforma, digamos assim, num segundo momento, no movimento monçoeiro.
Antes do movimento das Monções, vários bandeirantes passaram por aqui, sim, no século XVI. Alguns sertanistas mapearam toda essa região. Existem documentos que falam de vários Fernandes, uma família de povoadores que criou Santana do Parnaíba e que, a partir dali, desbravou e ocupou essas terras.
Domingos Fernandes foi um dos primeiros a se estabelecer na região de Itu; Baltazar Fernandes, em Sorocaba. Há documentos que dizem que um dos Fernandes, chamado André, passou por esta região de Porto Feliz. Muitos bandeirantes mapearam essas terras, portanto, não é verdade que nenhum bandeirante pisou aqui.
E por que Monções?
As monções sempre foram um tormento para os navegadores portugueses, que nada mais eram que um regime de ventos típicos do sudeste asiático, que têm uma alternância: ora sopra do continente para o mar, ora ao contrário; e provocam uma onda de grandes tempestades que, na época, destruíam grandes embarcações ou retinham expedições portuguesas durante seis meses. Os portugueses, acostumados com a navegação marítima, quando sobem os paredões da serra do mar e começam a navegar o Tietê, sertão adentro, têm uma nova periodicidade, agora imposta pelo regime das chuvas, não mais dos ventos. Esperavam os rios estarem cheios para transpor as corredeiras. Assim, emprestam o nome ‘monções’ para este novo capítulo do descobrimento português.
Pode-se dizer que o movimento monçoeiro é um movimento posterior ao bandeirismo?
Lógico que, num primeiro momento, ambos os movimentos conviveram. Muitos bandeirantes sorocabanos, quando as Monções começam a se tornar regulares, continuam procurando caminhos terrestres, que eram alternativas para facilitar o descaminho do ouro. Porque todo ouro que vinha em rota fluvial tinha pontos de controle de alfândega, até chegar aqui, que tinha uma alfândega contabilizada de todo ouro que vinha nas expedições. Mas sim, as Monções são um movimento que sucede ao bandeirantismo.
Deste seu envolvimento com a história, sua dedicação ao seu trabalho e sua amizade e convívio na república em São Paulo com Dr. Léo, nos tempos de graduação, o senhor foi convidado a ocupar o cargo de Diretor de Cultura de Porto Feliz, ocasião que, por questões políticas, acabou sofrendo uma ação no Ministério Público, que lhe gerou bastante aborrecimento. Existe uma mágoa deste episódio ainda ou são águas passadas?
Entendo as razões de quem moveu a denúncia, talvez não conhecesse o projeto, baseadas em suposições de que havia um projeto político de minha parte, coisa que nunca houve, além de alguns desacertos administrativos, a gente tem que reconhecer que houve. Creio que faltou diálogo. Sempre fica uma mágoa, mas são águas passadas.
Conte-nos um pouco deste projeto.
Dr. Léo fez um interessante trabalho em que ele queria privilegiar, naquele momento, Educação e Cultura. Assim, ele convidou grandes especialistas em Educação, como por exemplo o Dr. Jorge Nagle, primeiro reitor da UNESP, educador e autor de livros, que colaborou no plano. A própria Secretaria do Estado de Educação enviou especialistas para ajudar, porque era um projeto de municipalização do ensino, e isso fez com que o Léo desenvolvesse um plano muito bom para a cidade. Fui testemunha de um encontro do Léo com o então Ministro da Educação, Paulo Renato, na época, que, junto com sua equipe, receberam o plano e também a reivindicação de uma Escola Técnica de Ensino Agrícola. A equipe do Ministério da Educação aplaudiu o projeto, eu estava presente.
Algumas pessoas ainda dizem que foi uma gestão que focou somente na Cultura, em detrimento de outros setores.
Como uma pessoa muito culta, Dr. Léo queria fortalecer as instituições educacionais e culturais do município, mas não só a Educação e Cultura, claro. Dr. Léo, como médico, tinha prioridades na área da Saúde também. Se a crítica ao seu governo diz que ele se deteve só em Cultura, é porque alguma coisa não foi bem interpretada ou bem analisada.
Qual era o ideal do projeto na área de Cultura desta gestão?
Eu sempre acreditei num tripé importante para a sustentação da educação e cultura social, que é a escola, o museu e a biblioteca. Na escola você tem a base onde os estudantes recebem os instrumentos que vão capacitá-los a aprender. Na escola, o aluno, na minha visão, aprende a aprender, como é que ele vai dominar o conhecimento e produzir conhecimento novo. Na biblioteca ele tem todo o universo da palavra, da escrita e, por último, o Museu, que é universo dos objetos e da imagem.
A ideia, naquele momento, era reunir especialistas que nos ajudassem com isso. Foram feitos contatos com a UNICAMP, que enviou alguns especialistas para trabalhar nesta visão, junto com uma equipe coesa e de alto nível na cidade. Esta experiência foi relatada numa parte do livro chamado Escola Democrática, do professor Araújo. Ele evita citar o nome de Porto Feliz, mas no rol de agradecimentos, alguns professores locais são citados no livro.
Existem documentos locais que foram transferidos para Itu. Conte-nos um pouco sobre isso.
Assim que comecei a trabalhar no Museu Paulista, em 1972, o juiz local de Porto Feliz me chamou e pediu para fazer um laudo sobre o estado de conservação dos documentos cartoriais que estavam depositados nos porões do Fórum. Muitos documentos sofriam com umidade e ataques de insetos ‘papirófagos’, que comem papel. Na época, era diretor do Museu Paulista o jornalista e historiador Mário Leme, que conhecia o então juiz. Apresentei o laudo ao Mário, que o encaminhou para o juiz local, este, por sua vez, pediu para criar um plano de intervenção naqueles documentos.
Era um momento — que perdura em muitas cidades até hoje — em que todos os cartórios queriam se ver livres de documentação cartorial. São testamentos, inventários de grandes volumes que ocupam espaço e demandam muitos recursos para sua preservação. Fiz o relatório e o juiz perguntou se o Museu Paulista poderia fazer um tratamento de conservação, por se tratar de uma das mais antigas cidades do interior paulista. Perguntou se o Museu Paulista não poderia cuidar daquela documentação. Então, o diretor disse que sim, temporariamente, até que a cidade tivesse um acervo preparado para recebê-los de volta. Desta forma, continuam lá até hoje, preservados e catalogados. Porto Feliz ainda não tem condições de protegê-los.
O prefeito Dr. Léo, na época de sua gestão, também trouxe microfilmes importantes do período do desbravamento, direto de Portugal. Como foi este trabalho e onde estão esses microfilmes?
Quando foi se aproximando o ano 2000 e surgiram discussões sobre como comemorar no Brasil os 500 anos da chegada dos colonos portugueses, fizemos, na época, um projeto baseado em livros de história, especialmente do historiador Jaime Cortesão, que num certo momento usa a expressão de que o bandeirismo e as Monções, de certa forma, foram continuidades do descobrimento do século XVI, ou seja, os portugueses subiram a serra e continuaram descobrindo.
Então, pegamos esse gancho e fizemos uma justificativa para uma grande comissão portuguesa chamada Comissão Nacional das Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Essa comissão, que produziu seminários, livros, revistas, republicou tratados descritivos do Brasil, começou a fazer reuniões no Brasil para estabelecer um programa acoplado a um projeto de reprodução de documentos de todos os arquivos portugueses e europeus que tratassem do período do descobrimento, para fazer catálogos e reprodução fac-similar de documentos.
Esse projeto tinha o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e se chamou, se não me falha a memória, Projeto Barão do Rio Branco. Quando vimos tudo isso, surgiu a ideia do Dr. Léo, então fizemos uma reunião preliminar, onde discutimos a inclusão das Monções neste projeto. Houve, inclusive, brincadeiras de pessoas que diziam que as Caravelas haviam chegado no Porto das Monções. Essa pilha mostrava um certo grau de desconhecimento da história, mas não deixava de ser provocante no sentido de justificar melhor a ideia. Creio que faltou muito disso, porque na minha cabeça estava tudo certo.
Bem, fomos atrás dessa comissão que estava se reunindo em Ouro Preto, Minas Gerais, e nos foi dada a oportunidade de expor o nosso projeto. O Léo falou um pouco, depois me foi dada a palavra, e a comissão gostou imensamente do projeto e aprovou a inclusão de Porto Feliz no rol do programa. Com a ajuda de professores de Portugal, fizemos o levantamento de documentos da Biblioteca de Évora e também da Biblioteca de Lisboa, e produzimos cópias em microfilmes desses documentos.
Porém, com os problemas que ocorreram na gestão, não tinha como receber da prefeitura. As despesas foram pagas por terceiros e tais cópias foram entregues na prefeitura, embora não tenham sido pagas por ela. Todo este documento tem cópias no Arquivo Municipal, porém, os microfilmes eu não sei dizer onde estão.
Do tempo em que o senhor foi Diretor de Cultura de Porto Feliz, aos dias atuais, já se passaram 20 anos. Neste período, vimos patrimônios nossos serem demolidos, como os casarões da Barra Funda, o Clube Recreativo Familiar, casarões do centro, especialmente os que ligavam os patrimônios tombados que ainda existem na cidade, mais recentemente o Hospital do Grilo e, por último, o Chapéu da Madre, que não é, assim como muitos outros, um patrimônio histórico tombado, mas que fez parte da história local. Com exceção deste último, todos os demais foram demolidos por estarem nas mãos de particulares. Essa despreocupação com a história local é falta de uma política de preservação? Como conciliar progresso com preservação histórica?
A gente analisa descrições de viajantes sobre Porto Feliz, de 30 anos atrás, e nelas vemos o enaltecimento de uma cidade bucólica, típica cidade do interior, que ainda preservava parte de seus casarões do final do século XIX. Tomando como base esses relatos, realmente houve uma transformação muito rápida no panorama urbano, que não primou pelo bom gosto e que descuidou da história.
O desenvolvimento não é incompatível com a preservação da história. Se assim fosse, não teríamos cidades históricas como conhecemos, não só no exterior, mas também diversas cidades brasileiras, como no interior da Bahia, o centro do Recife, Olinda, São Luís do Maranhão, entre muitas outras. É possível conviver perfeitamente desenvolvimento com indústrias modernas e o casco urbano preservado e mantido. Não existe incompatibilidade; os dois podem caminhar juntos, mas, para que isso ocorra, primeiro tem que haver o anseio da população, manifestações da população em favor dessa preservação e políticas públicas que concretizem esse anseio.
A gente percebe essa manifestação quando o imóvel foi leiloado e seu proprietário o põe no chão, ou quando a prefeitura vai lá e derruba alegando risco à população. Porém, para a sua preservação, há sempre uma vista grossa.
O conjunto arquitetônico de uma cidade é documento da história, e a sua destruição é como apagar esses documentos através dos anos. Por isso, louvo a iniciativa da preservação da antiga fábrica Nossa Senhora Mãe dos Homens. Claro que houve uma adaptação de seu uso, mas a característica foi preservada. Faltariam ali alguns painéis explicativos falando da importância daquele espaço para a economia local, de trocas culturais intensas que marcaram um período da história. Falta um pouco disso.
Daí vem o que é cultura: não é só preservar o espaço se ele não contar a história para as próximas gerações que não viveram aquele momento.
Não é só tombar patrimônios por serem referenciais urbanos significativos de parte da história local, é preciso também criar medidas de preservação e estudos de viabilidade de exploração e novos usos econômicos que assegurem a sustentabilidade desse patrimônio tombado.
A gente não pode cair no romantismo de que a preservação por simples tombamento patrimonial dará garantias de continuidade, se não houver um projeto que dê sustentabilidade a esse bem tombado.
Porto Feliz preserva sua história?
Atualmente, nota-se a falta de maior empenho em ressaltar a importância da história local, para que seus próprios cidadãos — os que aqui nasceram, os que aqui moram e os que estão chegando — saibam que vivem em uma cidade com um longo caminho de formação histórica, que a diferencia de outras cidades.
Porto Feliz tem uma marca muito forte, que o próprio nome carrega. Por que Porto Feliz? Quando Antônio Manoel de Melo Castro Mendonça, governador da capitania, atendeu ao pedido dos moradores locais e criou a Vila de Porto Feliz, separando-a do território de Itu, ele também autorizou o uso desse nome porque era o desejo da população.
Era um porto às margens do rio Tietê onde quem chegava — bandeirantes e monçoeiros que percorriam árduos caminhos — se sentia feliz ao se aproximar do lugar. O próprio governador dizia que aquele local certamente teria grande desenvolvimento e se destacaria na capitania, em função do grande comércio proporcionado pelas rotas de navegação fluvial.
Quer dizer, esse potencial ainda não foi plenamente realizado.
Tal preocupação com a preservação dessa história é fundamental, para que, quando alguém perguntar “você é gente de quem?”, você sinta orgulho em responder: “Sou gente de Porto Feliz!”
Entrevista publicada na Revista BemPorto Ano 4 > n. 40 > dezembro | 2017